 |
|
|
|
|
|
MENU - Educar Sempre -
|
O diálogo (im)possível e a solidão
da voz
Teresa Mendes
Mergulhão
No entanto, não são apenas os temas declinados no interior do texto que prendem a atenção do leitor: a invulgar estrutura narrativa e o ponto de vista adoptado - o do sujeito textual adolescente que, plasmando no discurso os meandros da sua interioridade, se dirige a um ser ausente e sem capacidade efectiva de resposta - criam naturais expectativas de leitura e fazem antecipar o fim trágico da protagonista de A Lua de Joana, à semelhança do que sucede com o seu Duplo, a amiga entretanto falecida por overdose, aí residindo, a meu ver, a originalidade da obra e o verdadeiro motivo do seu sucesso preferencialmente junto do público adolescente e juvenil. Trata-se, efectivamente, de uma narrativa intimista com características muito específicas, sendo que o título omite qualquer alusão à epistolaridade que preside a toda a orquestração da narrativa, aumentando dessa forma o grau de imprevisibilidade da leitura. Na verdade, as indicações paratextuais não permitem, num primeiro momento, perceber o carácter genológico do livro. É preciso abri-lo e entrar na tessitura narrativa para se compreender a sua natureza epistolar e as circunstâncias que terão levado o sujeito a escrever para um ser ausente e fantasmático. É justamente esse sujeito que, logo na primeira carta, explicita a sua necessidade de, após demorada ponderação, encetar o diálogo (im)possível com a sua única confidente através da escrita, evidenciando o desejo íntimo de assim desabafar e compreender tudo o que aconteceu: Demorei muito para me resolver, o que não era costume. Para dizer a verdade, não sabia o que fazer. Precisava de desabafar, tentar compreender tudo o que aconteceu e, como foste sempre a minha única confidente … (LJ, 7) Neste momento inaugural, o leitor não se encontra ainda na posse de informações que lhe permitam compreender na plenitude as palavras do sujeito e descortinar o que terá acontecido. Aliás, as reticências e os não-ditos concorrem aqui para a instauração de um clima misterioso que será, contudo, progressivamente desvelado no decorrer da narrativa através de uma maior ou menor explicitude. De facto, ainda na primeira carta, Joana levanta um pouco a ponta do véu ao afirmar: “Faz hoje um mês que tu … Não sou ainda capaz de dizer a palavra. Se calhar, é porque não acredito que já não estás aqui comigo. É tão difícil de acreditar!” (LJ, 7–8). Pelo discurso emotivo do sujeito transtornado, incapaz ainda de proferir a palavra que o leitor pressupõe ser «morreste», se compreende todavia o estatuto condicionante do destinatário das cartas, até porque Joana acrescenta que o outro já não está perto de si. Escrever parece ser, pois, a única forma de o sujeito compensar a ausência do outro, presentificando-o, embora esse gesto irreprimível seja sentido como estranho e assumido em tom de confidência no seu discurso interior e simultaneamente endereçado ao destinatário virtual das cartas: “Escrever-te é praticamente macabro, eu sei. Mas não posso desligar-me assim tão facilmente de ti. E depois, como ninguém sabe, não poderão chamar-me doida” (LJ, 10). É aliás essa necessidade de fazer perpetuar o diálogo (im)possível com a amiga que leva Joana a preferir escrever-lhe cartas e a não optar pela escrita de um diário, tal como ela própria assume num registo metaficcional: Não fazia sentido escrever um diário, pois dava-me a sensação de estar a escrever para mim própria, o que acho um bocado estranho. Talvez seja ainda mais estranho escrever-te, mas é uma forma de manter viva a tua memória, pelo menos até entender o que se passou contigo; pelo menos até conseguir perdoar-te… (LJ, 7) Escrever para si própria parecer-lhe-ia de facto um bocado estranho, o que equivale a dizer que o diário, aos seus olhos, se institui como uma modalidade enunciativa sem o sentido comunicativo que as cartas possuem. Não obstante, a leitura da obra fará acentuar justamente a proximidade das cartas à escrita diarística, seja pelo carácter fragmentário de que se revestem, seja pela insistente manobra discursiva de recorrer à palavra interior, à palavra que revela a intimidade e as circunstâncias de quem escreve, seja ainda pela não observância de alguns dos princípios convencionais da escrita epistolar, como os da reversibilidade funcional e da alternância discursiva. Na verdade, a obra é composta por cento e duas cartas que, de vinte e oito de Agosto de 1992 a cinco de Julho de 1994, Joana dirige a Marta, entretanto falecida por overdose, mas nela se inviabiliza o intercâmbio epistolar porque o destinatário, aqui concebido como uma ausência, no momento da redacção das cartas que lhe são dirigidas habita já o espaço de todos os silêncios – a morte (cf. Rodrigues, 1999: 3). Deste modo, em A Lua de Joana, a ausência de um interlocutor possível transforma a relação eu-tu numa relação eu-escrita de mim, assumindo as cartas, dolorosamente endereçadas a um destinatário mudo, sem capacidade de resposta, a forma de um “diálogo monologante de aparência (…) desamparada” (Rodrigues, 1999: 4). Na perspectiva de H. Porter Abbott, expressa em Diary Fiction: Writing as Action (1984) e evocada por Bernard Duyfhuizen em Diary Narratives in Fact and Fiction (1986), narrativas como A Lua de Joana, marcadas justamente pela ausência de resposta do destinatário e, portanto, pela impossibilidade efectiva de interlocução, deveriam ser concebidas como uma subcategoria do diário ficcional porque nelas se privilegia a expressividade do monólogo. A inclusão deste tipo de narrativas de «single-writer», como as designa Abbott, no género diarístico é, contudo, problemática porque, apesar de se reconhecer que tais narrativas atribuem à comunicação escrita uma dimensão unívoca e unilateral, fazendo sobressair a voz singular e solitária do sujeito que escreve, parece-me óbvio que a existência de marcas contratuais da carta no corpo dos textos não pode ser inocente ou irrelevante. Na verdade, quando o sujeito interpela outro, mesmo sendo esse outro um ser investido de uma ausência irremediável, fá-lo com uma intencionalidade diferente do que se estivesse apenas a escrever para si. Aliás, é esse gesto interpelativo que permite distinguir precisamente o diário da novela epistolar, tal como se deduz das palavras de Lorna Martens, recuperadas por Duyfhuizen, ao definir diário ficcional: “It is a fictional prose narrative written from day to day by a single first-person narrator who does not address himself to a fictive addressee or recipient” (Martens cit. por Duyfhuizen, 1986: 175). Ora, daqui se infere que o simples facto de existir um destinatário convocado pelo sujeito emissor de cartas faz com que a narrativa deva ser entendida como epistolar e não como diarística. Aliás, o gesto epistolar é semanticamente produtivo nestes contextos dominados pelo apagamento do interlocutor, na medida em que traduz o desespero e o inconformismo do eu na sequência da perda irremediável do outro. A ser assim, a intensa nomeação do destinatário morto, expressão metafórica da profunda e irreversível incomunicabilidade entre os seres, pode ser percepcionada como uma tentativa de restituir à relação com o outro “o sentido comunicativo que o tempo e a morte inviabilizaram” (Rodrigues, 2006: 7). Neste sentido, A Lua de Joana apresenta-se como uma narrativa epistolar não convencional, dando a palavra a um “sujeito de enunciação demasiado ensimesmado e com manifesta incapacidade para se descentrar do seu ponto de vista” (Pedro, 2000: 16, um sujeito que procura respostas para o enigma da vida, embora projectando as suas angústias, os seus medos, as suas vivências na figura fantasmática da sua interlocutora, Marta, com ela se confundindo, pelo menos parcialmente. A questão do Duplo é aqui investida de um particular simbolismo, na medida em que, ao dirigir-se a um outro eu especular, o sujeito mais não faz do que problematizar a sua própria existência e as opções que ele próprio e o outro ao longo da vida tomaram. Num gesto sentido também como auto-recriminatório, o sujeito dirige-se por vezes a esse outro, ou outro eu de si, em tom claramente judicativo (“ainda não consegui compreender o que se passou contigo, nem sequer perdoar-te, Marta” (LJ, 18)), sem se aperceber contudo que, à semelhança do outro, também ele percorrerá o mesmo caminho descendente e terá o mesmo fim irremediável – a morte. Nas cartas que lhe dirige, o sujeito dá conta precisamente dessa sua caminhada auto-destrutiva, pelo que, apesar de o leitor não ter acesso directo à interioridade de Marta nem às circunstâncias que a terão conduzido à entrada no mundo da droga, pode a meu ver deduzi-las a partir da leitura das cartas de Joana, porque uma e outra funcionam como figuras especulares no interior da narrativa. Desta forma, as cartas de Joana podem ser lidas também como um exercício especular de auto-questionamento e auto-análise, mesmo se Joana, numa tentativa desesperada de presentificar a amiga entretanto desaparecida, a interpela directamente, seja através das fórmulas de saudação (“Querida Marta”) seja no interior dos textos, aqui assumindo particular relevância não só a forma pronominal escolhida – tu – como também o uso recorrente ao vocativo Marta sem quaisquer outros atributos: “Nada disto faz sentido, Marta! Que mundo tão estranho, o nosso!” (LJ, 106); “Que foi que me aconteceu, Marta? Como é que eu vim aqui parar?” (LJ, 147). Efectivamente, todas as cartas dirigidas a Marta incluem a saudação inicial “Minha querida Marta”, criando um obsessivo efeito de repetição no interior da obra, que será intensificado pela fórmula final com que o sujeito termina as suas cartas: “Um beijo da Joana” (em noventa e cinco cartas). Nas restantes, Joana socorre-se de mecanismos textuais que apesar de, na essência, transmitirem o mesmo afecto pela amiga, introduzem ligeiras (mas significativas) alterações. Assim, na carta do dia 25 de Dezembro de 1994, inclui outros elementos linguísticos que traduzem o seu estado anímico: “Um beijo com lágrimas (lágrimas são tudo o que posso dar-te este Natal) da Joana”(LJ, 136); no dia 20 de Novembro de 1993, despede-se da amiga reforçando e ampliando o beijo que normalmente lhe envia no final de cada carta, colocando-o expressivamente no grau aumentativo (“Um beijão da Joana” (LJ, 133)); no dia 5 de Julho de 1994, acrescenta a palavra «amiga», o que me parece relevante do ponto de vista simbólico por ser a última carta de Joana antes da sua própria morte: “Um beijo da tua amiga Joana” (LJ, 156). Apesar do carácter repetitivo de que se revestem estas fórmulas finais, regista-se, pontualmente, o recurso a outras estratégias de despedida. Assim, em duas cartas, datadas de 29 de Julho de 1993 e de 20 de Março de 1994, Joana assina só o seu nome, sendo esse gesto, nesta última, antecedido de duas frases semanticamente reveladoras do estado de espírito que a domina e que explicam a aparente secura com que se despede da amiga: “Sou uma fraca e uma covarde. Tenho nojo de mim” (LJ, 143)[3]. Além disso, em duas outras cartas (de 12 de Maio de 1993 e 25 de Maio do mesmo ano), Joana nem sequer coloca a sua assinatura no final, limitando-se, nesta última, a escrever apenas “Até amanhã” (LJ, 96). Se, no primeiro caso, a carta evidencia o estado de profunda tristeza e depressão em que Joana se encontra (“Estou triste. Não há ninguém no mundo que possa ajudar-me. Não consigo estudar, não me apetece ver televisão, jogar no computador ou ir ao cinema. Nem sequer me apetece ler! É por tudo isto que te escrevo” (LJ, 91)), no segundo, Joana confidencia à amiga o encontro íntimo com Diogo, irmão de Marta, depois de ele, bruscamente, ter rasgado uma fotografia em que estavam os três “em mil pedaços com uma raiva tal que parecia querer com aquele gesto apagar toda a história que a fotografia contava” (LJ, 95). A raiva e a revolta de Diogo fazem precipitar irremediavelmente os acontecimentos, deixando em Joana um sentimento de profundo ódio e desespero: (…) olhou-me como se me visse pela primeira vez, pôs as mãos à volta do meu pescoço, deu-me um beijo interminável e levou-me naquele abraço até à cama. Não te digo mais nada, porque não quero lembrar-me do que aconteceu depois. Só te digo que, assim que cheguei a casa, me enfiei na casa de banho e voei para o duche. Depois, quando me vi ao espelho, odiei-me como nunca. E tomei uma resolução: peguei na tesoura das unhas e cortei o cabelo. Cortei-o tão curto que quase não foi possível pentear-me. Em seguida, voltei a olhar para o espelho e disse para mim mesma: «A Joana já não mora aqui». (LJ, 95,96) A experiência sexual revelou-se especialmente traumatizante para Joana, ao ponto de nem sequer conseguir falar dela à sua amiga (ou seja, confessionalmente a si própria), não só porque não foi desejada mas também porque ocorreu em casa de Marta, nesse espaço sacralizado onde a presença invisível da amiga ainda se faz sentir. Por isso, Joana assume sentir-se envergonhada (“sinto uma espécie de vergonha” (LJ, 94)) e culpada por ofender a memória da amiga, sentindo de imediato uma necessidade imperiosa de se purificar, de se limpar de todas as máculas, de voar para o duche e de cortar o cabelo, naquela que se institui como uma estratégia deliberada e radical de auto-punição e de metamorfose. A partir desse momento, nada será como antes e a imagem que Joana vê reflectida no espelho da casa de banho, depois desse gesto iniciático de transformação, já não é de si, mas de outra pessoa, uma pessoa que Marta não conheceu, uma pessoa que Joana não quer dar a conhecer à sua interlocutora fantasmática. Aliás, o desdobramento do eu numa terceira pessoa gramatical («A Joana já não mora aqui»), dando conta da dramática cisão do sujeito, sinaliza a distância temporal e psíquica que separa o eu no presente de si próprio no passado e, em última instância, a própria ruptura existencial. Na verdade, as cartas, em especial as que Joana dirige a Marta no último ano da sua vida, adquirem uma dimensão particularmente dramática, uma vez que é nessa fase que o sujeito passa pelas experiências mais dolorosas do seu crescimento, sobretudo a entrada gradual no mundo da droga, que a conduzirá à morte, pressentida pelo leitor como inevitável. Nesse período, em particular a partir do dia 20 de Fevereiro, dia fatídico em que Joana se droga pela primeira vez, as cartas começam a ser progressivamente menos extensas e menos regulares (cinco em Março, duas em Abril, duas em Maio, quatro em Junho e duas em Julho). A extensão e a regularidade das cartas traduzem, nesse período, o estado disfórico em que se encontra o sujeito - perdido, desamparado e irremediavelmente só. É este sujeito sem capacidade de escrita que, na solidão da sua voz, afirma, premonitoriamente, na carta de 15 de Março: “Vou parar de escrever. Dói-me a mão, dói-me o corpo, dói-me o pensamento. Dói-me a coragem que não tenho” (LJ, 143). A decisão de parar de escrever, sentida intimamente como uma necessidade absoluta, resulta da dor e da incapacidade física do sujeito para prolongar o acto de escrita (dói-me a mão, dói-me o corpo), mas sobretudo da sua profunda debilidade anímica (dói-me o pensamento. Dói-me a coragem que não tenho). A decisão é justificada no discurso, em termos morfossintácticos, estilísticos e lexicais, pela enumeração de orações copulativas assindéticas, sustentada pela repetição anafórica (dói-me … dói-me… dói-me…), que intensifica a dimensão da dor, e pela referência às representações parciais do sujeito que, na sua perspectiva, inviabilizam a continuidade da escrita (a mão, o corpo, o pensamento, a coragem que assume não ter). Parar de escrever é, neste contexto, o sinal de uma dupla desistência: da comunicação virtual e obsessiva com o seu interlocutor fantasmático, irremediavelmente silenciado para todo o sempre, mas também, no plano simbólico, da própria vida, porque a escrita do eu se assume metonimicamente como a representação do existir e do ser. Parece, portanto, aqui fazerem sentido as palavras de Marcello Duarte Mathias quando postula que “renunciar ao acto de escrever (…) equivale a desistir de viver” (Mathias, 2001: 176). De facto se, até aqui, a escrita podia ser entendida como a única via (porventura ilusória) de salvação de um sujeito desamparado e só, a partir deste momento já nada há para dizer, nem a si, nem ao outro, adquirindo o silêncio maior eloquência do que a palavra, esvaziada de sentido(s). Esmagado por uma existência dolorosa e sem perspectivas de futuro, o sujeito adopta, pois, uma atitude de total desinteresse pela vida, deixando tudo por fazer: “Tenho montes de coisas para estudar, mas não dá para pegar num livro. Sinto a cabeça nos pés. Debaixo dos pés” (LJ, 145). A imagem, altamente produtiva do ponto de vista simbólico, sinaliza o grau de decadência e degradação de um sujeito diminuído, aniquilado dentro de si, com a cabeça debaixo dos pés. O percurso descendente de Joana adquire desta forma, na perspectiva de um sujeito estranhamente lúcido, uma expressão literária ambivalente, mas repleta de pregnância significativa. A caminhada auto-destrutiva de Joana (aliás, como a do seu Duplo) resulta contudo de uma profunda incomunicabilidade intergeracional, tal se depreendendo das palavras do sujeito duplamente revoltado consigo e com o(s) outro(s): “Onde é que ele [o pai] estava quando eu me meti nesta porcaria?” (LJ, 146). De facto, só após a morte de Joana, quando, pela voz de um narrador omnisciente, se descreve a reacção do pai (confrontado com a leitura das cartas da filha[4]) e a da mãe (atirada para um mutismo pleno de eloquência), os pais de Joana percebem finalmente, tarde demais, como teria sido importante terem tido tempo para a sua filha. As cartas são, pois, a única forma (paradoxal e irreversível) de o sujeito poder «comunicar» com aqueles que, estando próximos, nunca tiveram tempo para o ouvir, podendo, de alguma forma, entender-se essa estratégia compositiva como uma espécie de «vingança» final. Parece aqui revestir-se de particular significado o facto de o único leitor intratextual das cartas de Joana, ainda que estas não lhe tenham sido dirigidas, ser o seu próprio pai, porque foi justamente o pai que a personagem adolescente mais criticou ao longo da narrativa. Acontece porém que o tempo se esgotou, inviabilizando a possibilidade de um retrocesso nessa relação marcada pela radical incomunicabilidade entre os seres. A narrativa epistolar, percepcionada pela instância leitora como uma longa analepse apenas no final, fecha-se acentuando precisamente essa impossibilidade, permitindo ao leitor compreender que, de facto, também Joana encontrou o mesmo fim de Marta. Não há, contudo, qualquer referência explícita à morte de Joana, mas o silêncio (do narrador e das personagens) é mais eloquente e perturbador do que as palavras, do que tudo o que fica por dizer: Acabou de ler e, quando ia pousar as folhas sobre a cama, a mulher abriu a porta do quarto. - Que é isso – perguntou baixinho, a medo, como se não quisesse saber a resposta. - São cartas ... da Joana. A mulher voltou-se e saiu, de mão sobre a cara, fechando a porta atrás de si. (LJ, 157) A pergunta, sussurrada a medo pela mãe, e a resposta evasiva, e emocionada, do pai são os mecanismos textuais encontrados para sugerir justamente o que fica por dizer. Aliás, o silenciamento do sucedido parece aqui inscrever-se numa lógica de contenção que é visível noutros momentos da narrativa - sempre que Joana alude à ausência (apenas física) da amiga. Neste jogo dialéctico entre o dizer e o não dizer é preferencialmente o que não se diz que adquire maior produtividade semântica nesta obra, dando ao leitor (jovem ao adulto) a oportunidade de assim se apropriar, pela via da introspecção, das mensagens que, implícita ou explicitamente, ela veicula. A última passagem da obra, relatada pela voz do narrador omnisciente, explicita aliás a dimensão do sofrimento da personagem que, ao longo da narrativa, Joana mais culpabilizou pela sua derrocada existencial – o pai: Ele ficou no quarto. Juntou cuidadosamente todas as cartas e arrumou-as sobre a mesa-de-cabeceira. Ficou por muito tempo a ajeitar o molho para que ficasse bem direito, entre o candeeiro e o despertador. Depois, deixou cair o corpo molemente sobre a coberta, e a cabeça pesada afundou-se no almofadão de penas. Sobre a cama, restos de um papel onde se podiam ler os cuidados a ter com o cão. Encolheu as pernas lentamente e fixou os olhos inchados naquele baloiço estranho suspenso do tecto. A lua estava em quarto crescente. Desapertou a correia do relógio e pousou-o devagar sobre a mesinha. Agora, tinha todo o tempo do mundo. Para quê? (LJ, 157) O excerto dá conta da impotência e do profundo desalento em que o pai de Joana se encontra após a sua morte, um estado de espírito que ganha visibilidade nos gestos mecânicos que simbolicamente executa, em silêncio, no quarto vazio da filha: deixar cair o corpo molemente sobre a coberta da cama da filha, afundar a cabeça no almofadão de penas, encolher as pernas, fixar os olhos inchados no baloiço em quarto crescente, desapertar a correia do relógio e pousá-la devagar sobre a mesinha. Os movimentos são executados em ritardando, contrastando com a pressa de viver que, nas cartas, a filha tanto criticava. Aliás, o gesto de tirar o relógio parece-me bastante simbólico neste contexto porque, como as derradeiras palavras da obra sugerem, depois da morte de Joana o tempo deixa de ter qualquer utilidade. A questão retórica que dá por concluída esta peculiar narrativa epistolar[5] (“Para quê?”) instala inclusivamente um espaço de silêncio na página em branco que, a meu ver, se reveste de um profundo significado filosófico e pedagógico, na medida em que parece óbvio que a voz do narrador tem, “no seu horizonte imediato, a figura projectada do Leitor” (Buescu, 1995: 217). Na realidade, essa voz pretende, como se presume, agitar as consciências dos que, por qualquer motivo, afirmam não terem tempo para assistir ao crescimento de seus filhos, criando muitas vezes situações irreparáveis, como sucedeu ficcionalmente com Joana e Marta. A crítica, a meu ver, vai ainda mais longe, pretendendo atingir, na generalidade, a sociedade portuguesa finissecular, e em especial aqueles jovens (porventura os pais das Joanas e das Martas dos anos noventa) que viveram de forma intempestiva e acalorada o Maio de 68 e, posteriormente, o 25 de Abril, mas que se deixaram engolir pela voracidade da sociedade que tanto combateram, acabando por se tornar prisioneiros de uma certa filosofia de vida e de um padrão sociocultural e económico que secundarizam nitidamente o papel da família. É, portanto, a constatação da falência afectiva de uma geração que, como se deduz pela leitura da obra, não soube adaptar-se verdadeiramente à mudança social e que, demasiado tarde, se apercebe da inoperância e insensatez do seu estilo de vida. Nesse aspecto, A Lua de Joana encontra-se imbuída de um dupla intencionalidade pedagógica: alertar os mais novos para os perigos decorrentes de algumas práticas ou comportamentos desviantes, apresentando-lhes, directa ou indirectamente, alternativas, e despertar a consciência crítica e reflexiva dos mais velhos, no sentido de os tornar pais/agentes educativos menos ausentes e mais dialogantes – tudo isto num registo ambivalente, isto é, coloquial mas poeticamente cativante e filosoficamente enriquecedor. Bibliografia BUESCU, Helena Carvalhão (1995). A Lua, a Literatura e o Mundo. Col. Cosmos-Literatura. Nº 6. Lisboa: Edições Cosmos; CAMPBELL, Elizabeth (1995). “Re-visions, Re-flections, Re-creations: epistolarity in novels by contemporary women”. Twentieth Century Literature. Vol. 41. Nº 3, pp. 332 – 348, disponível em http://www.jstor.org/stable/441856, DUYFHUIZEN, Bernard (1986). “Diary narratives in fact and fiction”. Novel: a Fórum on Fiction. Vol. 19. Nº 2, pp. 171–178, disponível em http://www.jstor.org/stable/1345552; MATHIAS, Marcello Duarte (2001). A Memória dos Outros. Ensaios e Crónicas. Lisboa: Gótica; PEDRO, Maria do Sameiro (2000). “Diários, memórias e aventuras”. Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude. Nº 4. Porto: Campo das Letras, pp. 14–17; PÉREZ, Janet (1984). “Functions of rhetoric of silence in contemporary spanish literature”. South Central Review. Vol. 1. Nº 1/2, pp. 108 – 130, disponível em http://www.jstor.org/stable/3189244; RODRIGUES, Isabel Cristina (1999). “Cartas a Sandra de Vergílio Ferreira: a encenação do diálogo epistolar”, disponível em http://www2.dlc.ua.pt; RODRIGUES, Isabel Cristina (2006). A Palavra Submersa. Silêncio e Produção de Sentido em Vergílio Ferreira. Aveiro: Universidade de Aveiro.
[1] Texto parcialmente extraído (e adaptado) de Vozes e Silêncio: a Poética do (Des)encontro na Literatura para Jovens, dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 2009. [2] Aqui se excluindo o fenómeno Uma Aventura, uma série de enorme êxito na cena editorial portuguesa, mas claramente situada na periferia do sistema literário. [3] Nessa carta, bastante curta e incisiva, Joana conta à sua amiga que, por causa da droga, teve de vender os brincos que a avó Ju, entretanto falecida, lhe dera. Por isso se sente tão mal e por isso não consegue escrever mais. [4] Janet Pérez, a propósito da técnica do manuscrito encontrado, refere: “The narrative is terminated at a suspenseful or climactic moment as the manuscript unexpectedly ends, leaving the finder (…) (and/ or the reader) to search fruitlessly for a possible continuation. This device underscores the presence of silence, emphasizing the incompleteness of the narrative as it stands, and impels the reader to seek more deeply within the existing text for clues” (Pérez, 1984: 121). Ora, parece-me que, apesar de o narrador, em A Lua de Joana, dar continuidade à narrativa, fá-lo deixando em aberto a possibilidade de o leitor imaginar o que virá depois da morte de Joana. [5] Elizabeth Campbell dirá contudo que a inexistência de interlocução, em determinadas obras do género, não impede que as mesmas sejam percepcionadas como novelas epistolares, tal como sucede quando a narrativa não é apenas composta por cartas: “Novels which are no composed exclusively of letters can also be classified as epistolary, but only if the plot is determined, advanced, and resolved by letters” (Campbell, 1995: 333).
|
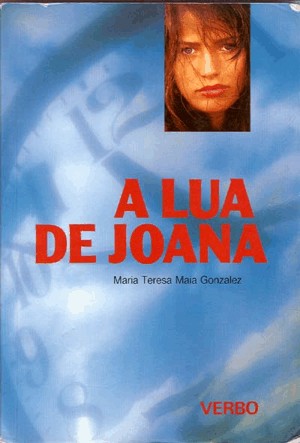 Com
mais de 300.000 exemplares vendidos em Portugal e com vinte edições
em pouco mais de quinze anos, A Lua de Joana, de Maria Teresa
Maia Gonzalez, constitui, desde a data da sua primeira edição, em
1994, um sucesso editorial inigualável no nosso país, no que à
publicação de livros para adolescentes e jovens diz respeito
Com
mais de 300.000 exemplares vendidos em Portugal e com vinte edições
em pouco mais de quinze anos, A Lua de Joana, de Maria Teresa
Maia Gonzalez, constitui, desde a data da sua primeira edição, em
1994, um sucesso editorial inigualável no nosso país, no que à
publicação de livros para adolescentes e jovens diz respeito